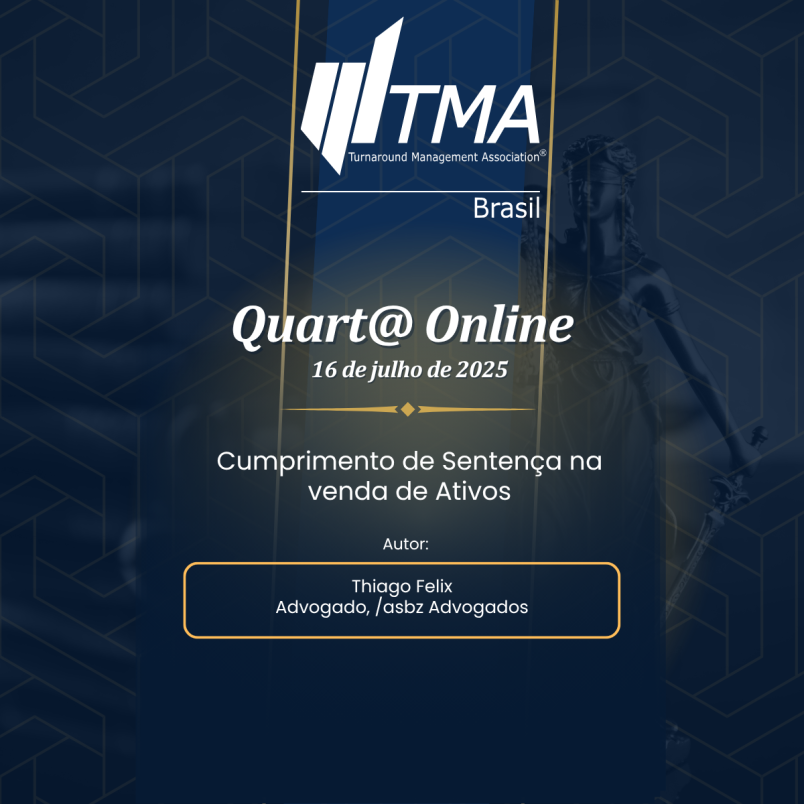
Painelistas: Adrianna Chambô Eiger (Moderadora do painel e sócia do Galdino, Pimenta, Takemi, Ayoub, Salgueiro, Rezende de Almeida Advogados); Laura Mendes Bumachar (Debatedora e sócia da Dias Carneiro Advogados); Silvania Tognetti (Debatedora, Professora de Direito Tributário e sócia da Tognetti Advocacia); Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho (Debatedor e Juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo); e Thiago Felix Rezende (Relator e Advogado do /asbz Advogados).
Sumário: I. Introdução – II. Exposições e Debates – II.1. A Alienação de Ativos como Mecanismo Estruturante da Superação da Crise – II.2. A proteção ao adquirente e o dilema da sucessão – II.3. Tributação na Alienação de Ativos: Um Obstáculo Silencioso – II.4. A Recuperação Extrajudicial e o Dilema Interpretativo – III. Considerações Finais.
Palavras-Chave: Recuperação Judicial – Recuperação Extrajudicial – Falência – Cumprimento de sentença – Alienação de Ativos – Venda de Ativos – Processo de Insolvência – Lei 11.101/2005 – Lei 14.112/2020 – Recuperação de Empresas.
Turnaround Management Association do Brasil – TMA Brasil
São Paulo – 2025
- INTRODUÇÃO
No contexto de um sistema jurídico em constante transformação, o evento promovido pela TMA Brasil – parte da série “Quarta Online” – trouxe à tona um dos temas mais relevantes e sensíveis do direito empresarial contemporâneo, qual seja a alienação de ativos em processos de insolvência.
Com a participação de juristas experientes, oriundos tanto da prática forense quanto da academia, o painel se debruçou sobre os múltiplos desdobramentos legais, econômicos e operacionais envolvidos nesse complexo universo.
Inserido no cerne do direito falimentar moderno e da reestruturação empresarial, o tema da alienação de bens se revelou, mais do que um mero expediente processual, um verdadeiro instrumento estratégico de reorganização econômica – essencial para preservar a atividade empresarial, reinserir ativos no ciclo produtivo e promover a satisfação dos interesses dos credores, sempre dentro dos limites da legalidade e da viabilidade.
O painel foi composto por exposições complementares da advogada Laura Bumachar, da tributarista Silvania Tognetti, do Juiz de Direito Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho e do advogado Thiago Felix, sob moderação da advogada Adrianna Eiger.
O debate se estruturou a partir de uma análise direta dos efeitos práticos e teóricos da reforma introduzida pela Lei 14.112/2020, que embora traga avanços relevantes, ainda suscita dúvidas e desafios significativos na sua aplicação cotidiana.
As contribuições apresentadas deixaram claro que, apesar dos evidentes aprimoramentos normativos, o sistema ainda enfrenta entraves substanciais – da resistência jurisprudencial ao instituto da não sucessão até o impacto da elevada carga tributária sobre operações realizadas em ambiente de crise.
Em muitos casos, o esforço pela consolidação de um ambiente de segurança jurídica esbarra na fragmentação institucional, na sobreposição de competências e na persistência de um formalismo que, por vezes, desconsidera as necessidades práticas do processo de recuperação.
Dessa forma, o evento revelou-se não apenas um espaço de exposição técnica, mas um verdadeiro ponto de convergência entre teoria, experiência prática e crítica institucional.
É nesse cruzamento que se delineiam as possibilidades reais de evolução do sistema, permitindo a identificação precisa dos pontos que ainda demandam amadurecimento interpretativo, uniformização jurisprudencial e, sobretudo, um compromisso contínuo com a coerência sistêmica.
- EXPOSIÇÕES E DEBATES
II.1. A Alienação de Ativos como Mecanismo Estruturante da Superação da Crise
A primeira dimensão abordada no painel concentrou-se na centralidade da alienação de ativos como ferramenta de sustentação dos processos de insolvência. Em especial na Recuperação Judicial, a venda de bens – principalmente sob a forma de Unidades Produtivas Isoladas (UPIs) – permite a captação de recursos, a continuidade das atividades empresariais e a reorganização do passivo, tudo isso sem comprometer a higidez jurídica do adquirente.
Este instrumento, que se consolidou no ordenamento jurídico a partir da Lei 11.101/2005, foi substancialmente aperfeiçoado pela Lei 14.112/2020. A reforma legislativa buscou ampliar a eficácia da alienação de ativos, conferindo-lhe flexibilidade procedimental e segurança contra a sucessão de obrigações, um dos grandes fantasmas que rondam os investidores interessados.
Contudo, como bem pontuaram os expositores, a importância da alienação não se esgota na Recuperação Judicial, especialmente considerando que em processos falimentares, ela adquire contornos ainda mais críticos.
A efetiva realização dos bens da massa falida é condição imprescindível para que os credores recebam valores mínimos, o que confere à venda de ativos papel estruturante do próprio processo de liquidação.
Com vistas a acelerar essas operações e evitar a perpetuação de falências demasiadamente extensas, a reforma legal estabeleceu, por exemplo, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que o administrador judicial promova a realização dos bens, sob pena de destituição. Trata-se de um importante avanço, que busca reverter o histórico de inércia observado sob o antigo regime da Lei 7.661/1945.
Ademais, as complementações legislativas flexibilizaram as modalidades de alienação, admitindo leilões, pregões, propostas fechadas e até mesmo modelos híbridos, desde que conduzidos de forma competitiva. A previsão de mecanismos como o stalking-horse e o credit-bid visaram tornar o ambiente mais atrativo, sem renunciar à transparência e da proteção aos credores.
Apesar disso, permanece sensível a controvérsia sobre as vendas diretas, realizadas sem processo competitivo. Embora alguns investidores considerem esse modelo mais ágil, parte significativa da jurisprudência vincula sua adoção a indícios de fraude ou ausência de boa-fé, gerando enorme insegurança quanto à higidez da operação.
Nessa linha, a principal recomendação prática extraída do debate foi a de observar estritamente os procedimentos do art. 142 da Lei 11.101/2005, que confere respaldo legal ao modelo de alienação competitiva, garantindo ao adquirente a desejada blindagem sucessória.
De forma geral, os participantes do painel convergiram no sentido de que a alienação de ativos deve ser compreendida como parte integrante e essencial da lógica econômica do plano de recuperação ou do processo falimentar, e não como expediente meramente acessório. Seu êxito depende da harmonia entre procedimento, conteúdo e finalidade.
II.2. A Proteção ao Adquirente e o Dilema da Sucessão
Em continuidade lógica ao tema anterior, o painel aprofundou-se nos limites da proteção jurídica conferida ao adquirente de ativos em processos de insolvência. Embora a legislação assegure, de forma ostensiva, a não sucessão de obrigações por parte do comprador, a realidade prática mostra-se muito mais complexa.
Relatos apresentados demonstraram que mesmo após a venda regularizada e homologada judicialmente, adquirentes são frequentemente surpreendidos com ações trabalhistas, fiscais e cíveis que desconsideram as garantias legais.
Em um dos casos narrados, a aquisição de ativos levou ao ajuizamento de mais de cem conflitos de competência, todos envolvendo tentativas de responsabilização do novo titular.
Essa prática expõe a profunda assimetria entre a letra da lei e sua aplicação concreta. Mas não só isso, a persistente resistência, por parte de setores da Justiça do Trabalho, em reconhecer a plena eficácia da cláusula de não sucessão – mesmo após anos de consolidação jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça – compromete o núcleo da segurança jurídica e atua como fator inibidor do interesse de potenciais investidores.
Além disso, a multiplicidade de interpretações entre os tribunais estaduais, aliada à instabilidade decisória das cortes superiores, aprofunda o cenário de insegurança jurídica e transforma a elaboração de legal opinions em exercício complexo, cercado de cautelas e ressalvas.
Na prática, isso se traduz em propostas mais conservadoras ou, muitas vezes, no abandono da operação.
Destacou-se também que esse cenário decorre não apenas de insegurança jurídica, mas de uma aplicação dogmática do direito, excessivamente vinculada à forma e insensível às consequências econômicas.
A crítica dirigida ao formalismo exacerbado foi unânime entre os expositores, que defenderam uma leitura teleológica e sistemática da legislação, de forma a trazer maior efetividade para o âmbito prático.
A subjetividade na aferição de elementos como boa-fé, fraude e preço vil agrava ainda mais o cenário. Quando tais conceitos são mobilizados de forma imprecisa, acabam por funcionar como filtros arbitrários que anulam a presunção de legitimidade da venda, minando sua eficácia.
Por essa razão, reiterou-se a importância de assegurar um processo competitivo, transparente e validado judicialmente, como forma de conferir presunção de legitimidade e blindagem ao adquirente. Assim sendo, o cumprimento do procedimento previsto em lei deve ser compreendido como critério objetivo de proteção.
Como parte das conclusões tem-se que a superação desse entrave depende, necessariamente, de uma postura mais pragmática por parte dos magistrados, especialmente das justiças especializadas. A cultura jurídica precisa ser orientada à solução de problemas, e não à perpetuação de disputas formais que nada agregam à função do processo.
Em suma, enquanto não houver uniformidade jurisprudencial e compromisso com a eficácia do sistema de insolvência, a alienação de ativos continuará a operar em ambiente de risco e hesitação, frustrando seu potencial transformador.
II.3. Tributação na Alienação de Ativos: Um Obstáculo Silencioso
Conectando-se diretamente à questão da insegurança jurídica, os entraves tributários foram apontados como outro fator de desestímulo à alienação de ativos em contextos de crise.
Se, de um lado, a venda desses bens é considerada essencial para viabilizar a reestruturação ou a liquidação patrimonial, de outro, sua tributação – muitas vezes desproporcional e complexa – compromete o resultado prático da operação.
A professora Silvania Tognetti apresentou, com clareza técnica, um panorama preciso das diversas incidências tributárias envolvidas. A começar pelo Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), cuja alíquota somada pode chegar a 34% (trinta e quatro por cento) sobre o ganho de capital.
Sendo que o problema reside no fato de que esse “ganho” nem sempre representa riqueza real, mas mera ficção contábil, especialmente em ativos desvalorizados.
Nesse contexto, a Lei 14.112/2020 buscou atenuar parte dessa pressão ao permitir, no âmbito da Recuperação Judicial, a utilização mais ampla dos prejuízos fiscais acumulados para fins de compensação da base de cálculo dos tributos incidentes sobre o ganho de capital.
No entanto, essa regra não foi estendida à Recuperação Extrajudicial, criando uma assimetria injustificável e contraditória dentro do mesmo regime jurídico de insolvência.
Esse desequilíbrio impacta negativamente a decisão de empresários que, diante da incerteza, acabam optando por mecanismos mais onerosos apenas para se protegerem da carga fiscal.
A própria lógica da Recuperação Extrajudicial, mais célere e menos formal, resta esvaziada por conta da ausência de paridade tributária.
Além do IRPJ e da CSLL, há ainda a possibilidade de incidência de PIS e COFINS sobre a receita obtida com a alienação, sobretudo quando os ativos são vendidos antes de decorridos 24 meses de sua aquisição.
A alíquota, que pode atingir 9,25%, incide sobre o valor bruto da operação, desconsiderando qualquer abatimento proporcional ao custo histórico do bem ou à sua depreciação.
No caso da alienação de imóveis, há ainda a incidência do ITBI, cuja base de cálculo, em muitos municípios, é fixada de forma arbitrária – frequentemente com valores venais superiores ao preço efetivo da transação. Essa distorção acaba por gerar litígios administrativos e judiciais, retardando a formalização da operação e impondo custos adicionais ao adquirente.
Outro ponto pouco explorado, mas de grande relevância, diz respeito à posição do adquirente no contexto da chamada “compra vantajosa”.
Trata-se da hipótese em que o valor pago pelo ativo é inferior ao seu valor contábil de referência, circunstância que leva a contabilidade a registrar a diferença como ganho – o que, por consequência, sujeita o adquirente à tributação sobre essa suposta renda.
Esse efeito colateral surpreende muitos investidores e deve ser cuidadosamente considerado no planejamento da transação, pois seus impactos vão além dos aspectos financeiros, afetando diretamente a segurança jurídica e a atratividade da operação como um todo.
Nesse sentido, o investidor que vislumbra uma possível “bitributação” ou múltiplos litígios fiscais reduz seu apetite pelo ativo, ou, quando aceita os riscos, exige deságios relevantes no preço – em prejuízo direto da empresa devedora e dos credores.
Por essa razão, os painelistas foram unânimes em reconhecer que a dimensão tributária da alienação de ativos não pode mais ser tratada como aspecto periférico. Trata-se de elemento estruturante da operação, que deve receber o mesmo grau de atenção conferido à segurança jurídica em matéria de sucessão.
Assim, a articulação entre reestruturação empresarial e sistema tributário precisa ser revista sob um olhar mais funcional, vez que é preciso construir uma racionalidade fiscal própria para o contexto da insolvência, que concilie o interesse arrecadatório do Estado com a necessidade de preservar o ciclo econômico e a ordem dos credores.
II.4. A Recuperação Extrajudicial e o Dilema Interpretativo
No entrelaçamento entre segurança jurídica e viabilidade econômica, a Recuperação Extrajudicial surge como alternativa promissora, mas ainda subexplorada.
Embora a Lei 14.112/2020 tenha buscado incentivar seu uso, conferindo-lhe maior operacionalidade, sua aplicação prática permanece tímida, sobretudo pela ausência de segurança quanto à alienação de ativos.
A omissão legal no tocante à não sucessão de obrigações na Recuperação Extrajudicial tem gerado receio entre operadores e investidores. Diferentemente da Recuperação Judicial, onde tal blindagem é claramente prevista, o regime da Recuperação Extrajudicial ainda depende de interpretação sistemática para fundamentar a mesma proteção.
Durante o painel, destacou-se que essa lacuna produz um efeito contraditório: empresas que poderiam se beneficiar de uma recuperação menos judicializada acabam sendo levadas ao processo judicial justamente para obter respaldo claro à venda de ativos.
O que deveria ser uma via de desjudicialização, acaba contribuindo para a saturação do Judiciário.
Ademais, o próprio fisco costuma reagir com maior resistência às operações realizadas em Recuperação Extrajudicial, seja exigindo formalismos excessivos, seja negando os mesmos benefícios que reconhece na Recuperação Judicial. Esse comportamento institucional, combinado à omissão legislativa, gera um ciclo de desincentivo.
Embora o art. 142 da Lei 11.101/2005 preveja expressamente a não sucessão nas vendas realizadas nos termos legais, subsistem controvérsias quanto à extensão de sua aplicabilidade às Recuperações Extrajudiciais. Essa indefinição acentua o vácuo normativo existente e alimenta um cenário de insegurança jurídica.
Outro fator complicador reside na jurisprudência que vem se consolidando no âmbito trabalhista.
Especialmente em alienações formalizadas no contexto da Recuperação Extrajudicial, é comum que a Justiça do Trabalho se recuse a reconhecer a ausência de sucessão, especialmente quando identifica indícios de continuidade da atividade. Essa ausência de uniformização interpretativa compromete gravemente a segurança jurídica e contribui para minar a atratividade do instituto.
A conclusão a que se chega é que o êxito da Recuperação Extrajudicial, quando estruturada com foco na alienação de ativos, depende fundamentalmente de uma postura interpretativa mais coesa e alinhada por parte do Judiciário.
A teleologia da norma deve prevalecer sobre os silêncios legislativos, sobretudo quando a finalidade da regra se apresenta de forma clara e inequívoca.
Assim sendo, enquanto persistir a hesitação em aplicar à Recuperação Extrajudicial os mesmos fundamentos da Recuperação Judicial, o instituto permanecerá em estado de subutilização, representando um retrocesso, pois frustra o esforço reformista e nega às empresas um caminho legítimo de reorganização menos onerosa.
- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final do painel, tornou-se incontornável a constatação de que, embora a alienação de ativos esteja juridicamente consolidada como ferramenta essencial à insolvência, sua efetivação ainda depende de esforços interpretativos, culturais e institucionais significativos.
A legislação avançou, sim, mas a norma escrita não basta. Quando os operadores do sistema – magistrados, procuradores, advogados, investidores – não caminham em sintonia com os objetivos econômicos e jurídicos da recuperação, o sistema vacila. É nessa dissonância que moram os maiores obstáculos à efetividade do direito concursal.
A insegurança quanto à sucessão, a excessiva litigiosidade – muitas vezes alimentada por posturas ativistas da Justiça do Trabalho –, os conflitos de competência e a resistência das fazendas públicas desfiguram os avanços previstos em lei. Em vez de impulsionar o processo de reorganização empresarial, essas distorções o paralisam e comprometem sua efetividade.
A crítica unânime recaiu sobre a aplicação excessivamente dogmática do direito, que se descola das realidades econômicas e impõe obstáculos artificiais a soluções que, em si, são legítimas e necessárias.
O sistema concursal brasileiro precisa caminhar para um modelo mais pragmático e funcional, orientado à resolução de problemas e não à perpetuação de debates estéreis.
Nesse sentido, também o papel do fisco precisa ser revisto. O Estado não pode ser agente de inviabilização da reestruturação, mas ao contrário: deve ser parte da solução, atuando de forma responsável, coordenada e tecnicamente eficiente, sendo que a arrecadação também depende da sobrevivência da atividade econômica.
A jurisprudência, por sua vez, tem papel essencial na consolidação de um ambiente previsível, vez que a uniformização de entendimentos, o respeito às decisões do juízo recuperacional e a contenção da litigiosidade derivada são medidas que favorecem não apenas o devedor, mas o sistema como um todo.
O painel encerrou-se com um apelo por racionalidade, coerência e amadurecimento institucional. Em vez de discursos dicotômicos – pró-devedor ou pró-credor –, deve-se construir um sistema pró-efetividade, em que segurança jurídica e viabilidade econômica caminhem lado a lado.
Nesse esforço, encontros como o promovido pela TMA Brasil são fundamentais. Eles promovem o diálogo qualificado entre os diferentes atores do sistema e contribuem para a consolidação de uma cultura jurídica mais sofisticada, mais consequente e mais comprometida com a função social e econômica do direito da insolvência.
Pós-graduado em Direito Empresarial pelo Insper
Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)


